 |

Está
Escrito
José
Carlos Queiroga
Johnny
Cash, que eu lembre, foi o único pistoleiro a derrotar
Kirk Douglas em duelo. Duelo limpo, estilo Matar ou Morrer,
quando Gary Cooper sai à rua empoeirada do bang-bang para
enfrentar, sozinho, o bandidão.
Cash
– o original MIB –, de preto, claro, circunspecto,
soturno, esperou a iniciativa de Douglas para sacar e, milionésimos
de segundo depois, ainda assim, mostrou para os das poltronas
(olhamo-nos, eu e o Pascoal, e nos dissemos, “Bá!”,
no sentido de, “Viu?!”, concedendo que o cara era
realmente bom) que era o mais rápido gatilho do oeste.
Do filme, nem sei o nome, mas o propósito da indústria
estava claro: faturar em cima da imensa popularidade do cantor
country no sul dos EUA (vide Willie Nelson), região “confederada”
desde a Guerra da Secessão, resistindo em aceitar a hegemonia
ianque. Nashville, de Robert Altman, é
o diagnóstico de como pensam, constroem seu imaginário,
alicerçam seus templos.
Como
fizera em M.A.S.H. – maroto, sobre os soldados
americanos da Coréia – e faria em quase todos os
filmes que se seguiram, com destaque para Short-Cuts
– baseado em um estupendo Raymond Carver, sobre o vazio
caótico da civilização de fins do segundo
milênio – e Prèt-a-Porter
– sobre o glamour decadente do mundo da moda –, Altman,
em Nashville, abre um grande plano geral e mostra
as minúcias de um festival de música para onde,
parece, confluem “todas” as criaturas, liliputianas
no bochincho de intenções e gestos. O Grand Ole
Opry é o altar-mor de Nashville, mas a cidade inteira é
o “teatro dos acontecimentos”, em cada canto um circo
armado, a lembrar – ao menos para nós, alegretenses
exibidos –, uns versos de Quintana:
“...Vão
começar as convulsões e arrancos / Sobre os velhos
tapetes estendidos... / Olhai o coração que entre
gemidos / Giro na ponta dos meus dedos brancos!...”
E
então:
“’Meu
Deus! Mas tu não mudas o programa?’ / Protesta a
clara voz das Bem-Amadas. / ‘Que tédio!’, o
coro dos Amigos clama. // ‘Mas que vos dar de novo e de
imprevisto?’ / Digo... e retorço as pobres mãos
cansadas: / ‘Eu sei chorar... Eu sei sofrer... Só
isto!’”
(Os
uruguaianenses morrem de inveja. E ainda temos o Faraco!)
Johnny
Cash morreu, o que costuma acontecer com as pessoas em geral –
todas as que não são o Paulo Coelho –, variando
apenas o como e o quando. No caso de Cash, em 2004, de morte morrida
mesmo, e nem tão velho assim que Deus dele precisasse na
roda de pôquer cego, mas, de qualquer forma, o convocou,
o “homem de preto” era extremamente religioso e, com
a iminente chegada do polonês – Ele tudo sabe, até
do futuro, que nem existe –, sentiu que a gangorra desequilibraria.
Descansemos, pois: se um Deus já é bom trino, prevenido,
vale por toda as pedras frias do Vaticano.
Seu
último disco, “The man comes around”, traz
um recorte do perfil marcante sobre fundo – adivinhem? –
negro e uma série de músicas próprias e alheias
– como “The Bridge Over Trouble Water”, de Paul
Simon, ou “In to My Life”, de Lennon e MacCartney
– às quais, com a bela voz de baixo rouco, acrescenta
o cansaço de ter subido uma montanha de seixos (e com ela
nas costas!), alguns rolantes – meio Sísifo, como
todos, incluso o bocudo da língua grande –, outros
ainda ali, como balas pétreas, Demóstenes tã-tã,
o truque desmascarado em praça pública... Nessas
horas, não adianta procurar, nunca tem uma lixeira por
perto onde cuspir disfarçadamente a gafe. Nessas horas,
resta-nos engolir o chiclete e correr o seriíssimo risco
de colar as tripas. Pois as pedras, acreditem, guturais engasgos,
antes ruídos do que a limpa elocução esperável
de um Bing Crosby country, soam melhor em nossos igualmente cansados
ouvidos. “Melhor”, explico: o som mais vívido,
e não por vocálico, em “aa”, janelas
abertas, dia de sol, primavera, mas pelos tropeços consonantais,
os erres mais que os esses, noite invernal, caverna. “Melhor”,
assim, o som, vivido, recolhimento íntimo de apagar a luz,
jornada finda, resmungar pensamentos no escuro, solidão
infinita.
John
Mills foi outro que morreu – também não era
Paulo Coelho, embora Sir –, o magnífico bobo (Oscar
de coadjuvante em 71) de A Filha de Ryan, por
sua vez, um dos tantos magníficos David Lean (Lawrence
da Arábia, Doutor Jivago, A Ponte do Rio Kwai,
etc.), aos 97 anos. No mesmo obituário leio compungido
a nota do passamento de Ruth Hussey, namorada de James Stewart
(de Janela Indiscreta, O Homem que Matou o Facínora...
lembram?) em uma comédia de 1940, quatro anos mais jovem
que Mills (“Bem mais jovem...”, como diz a mãe,
defendendo-se quando brinco que tem “de 70 pra fora”,
e tem menos, um ou dois). Impressionante, mas está todo
mundo morrendo, só na página da Zero Hora são
sete com foto e quatro sem, o que soma 11, número da sorte,
“tenho que jogar no bicho”, penso, e penso melhor,
“não, bicho é contravenção,
certamente coisa do demônio”.
Não
sei se perceberam, mas o último parágrafo é
ansioso, taquicárdico, porque, quando escrevi “solidão
infinita” no anterior e iniciei o seguinte com John Mills,
de A Filha de Ryan, que assisti embebecido no
Cine Glória, aos 13 (mesma idade das adolescentes problemáticas
de Aos Treze e de meu neto mais velho, Eduardo),
começaram as palpitações. Estou com 47, idade
de meu pai quando do primeiro infarto, dez anos antes do derradeiro.
Puxa, Drummond, “todos vêm tarde sempre” (“todos”,
nós, eu com o socorro), e, Carlos, tocaio, é isso,
“a vida que nos resta, pausa descompassada...” O pai,
Drummond, Quintana, Cash, Mills, Stewart, Cooper e até
a Dada, minha babá, que pediu pra Comadre, “Não
me deixa morrer aqui”, e a Comadre não queria, fez
tudo pra que não acontecesse, mas no outro dia, na Santa
Casa, morreu também a Dada, porque é aqui que se
morre, é na Terra que se vive e que se morre.
O
Coelho não, evidentemente, mas isso é “de
somenos”, como dizia um vetusto professor de Direito. O
importante é que algumas pessoas, para nós, não
morrem nunca. Tenho certeza disso quando visito Porto Alegre.
Certeza e conforto, porque lá, em todos os muros, está
escrito que Elvis NÃO MORREU! E eu acredito, só
me resta acreditar, até porque está escrito.

Luz
Negra
José
Carlos Queiroga
Quando
tinha alunos, quase todos adolesciam, palavra que vem do latim
e – os consolava, mais do que advertia – significa
“sentir dor”.
Eu,
Christiane F., Treze Anos, Drogada e Prostituída,
de 1981, foi, provavelmente, o primeiro filme a abordar o tema
fixando uma idade, os 13, como a fase crítica do grande
rito de passagem de nossas vidas
(salvo
a travessia a nado
do
Ibirapuitã cheio,
em
livre estilo “copinho”,
no
Porto dos Aguateiros),
13,
bem menos do que James Dean tinha em Juventude Transviada
e muito mais do que os oito do poema que Casimiro escreveu aos
vinte, vinte e poucos (ou não daria tempo, só psicografado),
saudoso das “tardes fagueiras, à sombra das bananeiras,
debaixo dos laranjais”. Kids, Confissões
de Adolescente e Vidas Sem Rumo são outros filmes
que me ocorrem, agora que vi um cujo título é já
a confirmação de um paradigma: Aos treze
(Thirteen, de Catherine Hardwicke, com roteiro
dela e de Nikki Reed, que conta suas experiências pessoais
e aparece como Evie, a amiga dela mesma, na película, Tracy,
vivida por uma lolita de cinema, Evan Rachel Wood).
Lembro
de um cartum entrevisto em alguma “baia” nos anos
70 (imprensa nanica, pasquins versus, nada desse conformismo adesista
de hoje, porque era preciso ser contra, e sempre é, não
nos acanhemos!): dois no balcão, um deles, todo presumido,
cheio de “balaca” explicando ao outro que sua roupa
“incrementada” – calça boca de sino,
com nesga desbotada, jaqueta de brim, mini-blusa colante, sapato
de plataforma – era o que o fazia singular, diferente, “sacou?”,
e não apenas mais um na meleca da sociedade de consumo.
O interlocutor olha por sobre o ombro do jovem para outros jovens,
eles também diferentes, todos absolutamente iguais. Moral
da história?
A
crítica dividiu-se quanto às qualidades do trabalho
de Hardwicke, alguns entendendo que mostrar auto-mutilação,
sexo promíscuo, uso e tráfico de drogas é
apelação pura. Mais um filminho pra chocar pais
e mestres e, assim, emplacar semanas nas melhores salas e ser
sucesso de locações, (a) distraindo a “tchurma”
em alguma tarde vazia no shopping, (b) reunindo a família,
persignada frente ao eletrodoméstico – e nem é
novela! –, (c) amontoando colegiais no exíguo salão,
em mais uma tentativa irritante de contrariar Caetano Veloso,
que além de rebolar “Chiquita Bacana” e cantar
magnificamente “FiiiiiiinaaaEs-tampa...”, escreveu:
“a coisa mais certa de todas as coisas não vale um
caminho sob o sol”. (Deste caminhar, uma cena destaca-se:
as amigas, braços dados, irrompem, do sol, no tubo do corredor
da escola e vêm contra a tela, confiantes, felizes, “poderosas”,
ao som marcado de uma dessas triunfais de passarela. Desforra
da câmara opressora, que as persegue, denuncia e encurrala
o tempo todo, cerceando-lhes mesmo o que é próprio
da idade, como o gestual destemperado da rebeldia.)
Um
ewaldesouza da Rede, Paulo Pinheiro, chegou a dizer que o filme
passa a idéia de que o sonho das adolescentes americanas
é transformarem-se em vadias quando crescerem. (E eu, cá
comigo, lembro de Julia Roberts em Uma Linda Mulher,
prostituta que se dá tão bem que conquista um ricaço
WASP e ainda rende uma das maiores bilheterias da história,
transformando-se na pretty woman oficial de todos nós,
pelo menos até o – aleluia! – advento de Nicole.
E ela também morava em Los Angeles, borderline de Oliú.)
Os
jovens com quem falei têm opinião oposta; sem nenhuma
exceção, gostaram de Aos treze.
Uma menina de 15, Bárbara Maia, que encontro na Internet,
bem impressionada, diz que “não é um filme
que te dê muitas lições, mas mostra que se
a sua vida está ruim, você precisa fazer alguma coisa
para mudar”, classificando-o como próprio “para
se ver com a mãe, com o pai e com os amigos”, pois
é bom assisti-lo com quem “se importa com você”.
Bárbara destaca a importância do diálogo e
da postura compreensiva da mãe “riponga” (atuação
premiada de Holly Hunter), pós-ripismo este torpedeado
por Paulo Pinheiro: Mel “educa sua filha na mais completa
liberdade de espírito, de acordo com todos os manuais da
moderna psicologia. O resultado, como não poderia deixar
de ser, é um desastre”.
Temos
então que, para o adulto Paulo, a moderna psicologia é
um desastre, ao contrário do que pensa a jovem Bárbara,
que, divergindo do caráter pedagógico do filme,
outrossim, concorda com alguma voz do texto (eu mesmo? Tu, caro
leitor? Ele, o embuçado?) de que assisti-lo é coisa
de se fazer junto com quem se gosta. (Como o sexo, eu acrescentaria,
e todos os nossos mais íntimos transbordamentos.) O que
vale mesmo é a troca de idéias. Pensar, tipo assim,
funciona como um daqueles emaranhados de pistas de Los Angeles:
oferecem muitas opções, talvez alguma saída.
Moral? No Reino de Oz. A menina do Kansas, porém, morreu
de overdose, levando o mapa consigo.
Quando
eu tinha 13 anos, tudo era “feio”, tudo era meio proibido.
Nosso rito de passagem dava-se mais tarde (cinco minutos mais
tarde, como diria o Pirata). Meu neto mais velho, de exatos 13,
torna-se homem de repente. Observo nele o que fui num dia qualquer
como este, vêm-me as palavras de Steinberg sobre a arte
moderna, que “sempre nasce com ansiedade”, e penso:
uma vez ouvi, transido, “The Dark Side Of The Moon”
sob luz negra; Pink Floyd, Cuba Libre, luz negra e uma confusão
de sonhos dourados na cabeça.
Erico
Veríssimo dizia que, no mínimo, a tarefa de um escritor,
“numa época de atrocidades, é acender sua
lâmpada, fazer luz sobre a realidade”. Se não
tivermos lâmpada, “risquemos fósforos repetidamente,
como um sinal de que não desertamos”. Tarefa de um
escritor, do Cabo, meu amigo engenheiro-eletricista, e de todos
nós, com mais de 21, incentivando aos que adolescem com
nossa teimosia, nossa solidariedade explícita, nossa presença
“esquisita”. Porque este rito de passagem, aos 13,
é “sinistro”. Não como,
claro,
aquele outro rito
de
vazar o rio a nado
no
Porto dos Aguateiros,
Ibirapuitã
cheio,
mas
é sempre um rio a atravessar, sem ponte e turbulento. Por
mais que nos pareça a coisa toda um exagero (da distância
segura que impõe o tempo), é água, e das
piores: inevitável permeio.

Muda
geme?
José
Carlos Queiroga
Nestes
calorões fora de época – parece que o tempo
entra na menopausa, ô idadezinha perigosa! –, nada
melhor do que locar um filme sem pé nem cabeça para
assistir à noite, quando a TV aberta passa ratinhos, leões,
uns enjaulados e a fauna completa das novelas. Sem pé nem
cabeça e politicamente correto, ainda ontonte foi o dia
das mulheres e elas, quando não é menopausa, é
TPM, pior, mensal, ô generosinho do cão! Um filme
com um afro-descendente como protagonista, Anthonhy Mackie, e
um bando assim tipo Harrelson, Barkin, Ossie, Dennehy, Brown,
Turturro fazendo figuração.
Mackie
é Jack, JJ, que resolve denunciar as falcatruas da companhia
onde trabalha e é imediatamente despedido, tem sua conta
no banco – com agências no Brasil, brrrr! –
sustada, os cartões de crédito, tudo, cai daqueles
espigões envidraçados e se espatifa contra a dura
vida. Catando estihaços, ainda grogue, aparece-lhe a ex-mulher,
Fátima (Kerry Washington) com uma outra moça, Alex
(Dania Ramírez), ambas muito bem parecidas, a primeira,
afrodescendente, a outra, latina. JJ, que está chateado,
em cacos, flecha a mulher com suas farpas:
–
Quem é ela? Seu novo brinquedo?
–
Jack, sinceramente... – e ele:
–
Senhorita Boazuda Brasileira, você é o sabor deste
mês? – Alex:
–
Ei, cabrón... Não sou brasileira, sou dominicana.
Ofendida,
a dominicana, porque brasileira, bá!... Agora mesmo, a
Secco e a trupe dela, um punhado de pobretões platinados,
de olhos azuis, estão acantonados no México, prontos
para forçar a fronteira sul do tio sam, tomara que o bush
não invente outro Álamo e declare guerra a todo
o Continente. O texano é boina-verde que te digo!, wayne
barbaridade! Primeiro, Cuba, um tornado, só que de cima
pra baixo, a Condolência assessorando, "Diz-que pela
Baía dos Porcos..." Um horror, essa afrodescendente.
Mas
a dominicana, hein?! A Secco, boazuda e saborosa daquele jeito,
como bem disse JJ... "O preconceito é a coisa mais
horrível deste mundo", sempre falava o adolfo, amuado,
quando gozavam do bigode de Carlitos dele.
Bueno.
Fátima e Alex queriam ter filhos, mas, não se sabe
bem a causa – a ciência avança mas não
é o Senna, pra quê?, viram no que deu?!... –,
o fato é que, infelizmente, como acontece com muitos casais
do mesmo sexo, tinham um problemão, faziam, faziam e não
engravidavam. Coisa séria! E faziam, faziam, nada!... De
modo que resolveram apelar para JJ, uma das duas – céus!
– deveria ser estéril... Deus!...
Don
Bagayo y Balurdo, grande conhecedor do assunto, PhD dos CDF, tem
uma teoria. Diz o professor que o Supracitado, naquele tempo,
à moda miguelão, Coitado, escapou-Lhe a cherenguinha
e não é que deixou Eva sem piola?!... Adão,
prevenido, com a sua bem escondida atrás da folha da parreira.
Porque a mulher cobiçava, desde o início ambicioneiras
que são, sempre de olho no que é dos outros.
–
O problema da piola é parte de um outro muito maior, que
é o da escassez de gêneros... – Claro, pensamos,
o paraíso tinha lá suas frutijas, greipifruitis,
mas como saber se não eram desses mio-mios bonitos que
até cavalo matam? Adão, mui cavalheiro, até
provava, mas, e se desse o azar de ser tóxico?... E nós,
no éter, sem no que encarnar? Tá louco?!...
–
Escassez de gêneros. Refiro-me ao duo primacial, quando,
bem o sabemos, não há ortodoxia no tocante a piolas,
e a ciência está a demonstrar sobejamente esta verdade.
Algumas são digitais, outras linguais, quando não
sub-linguais, e até mesmo de látex duro, vaselinado,
sem falar do leque das umbelíferas e das euforbiáceas,
com destaque para o pão-de-pobre, tubérculo de polpa
firme muito apreciado inclusive pelos ricos... Enfim, não
vamos longe, em qualquer bolicho de esquina, quem não tem
de sua, de nascença, encontra piola que lhe sirva justo.
Neste particular, vige a lei da oferta e da procura. Mesmo onde
o canibalismo é selvagem. E agora, se me dão licença...
Don
Bagayo é sábio. Vai dar a sesteada de costume, engraxar
a piola com a evitita que ora está a servi-lo de um tudo.
Mas,
voltando a Fátima e Alex, problemão! Foi, foi que
combinaram: a que não engravidasse, ficaria feliz por ambas,
afinal, de qualquer forma, seriam os pais do bebê, Jack
apenas doaria o sêmen, ainda que tivesse que usar aquele
apêndice nojento que as moças desprezavam, e nelas!...
Desempregado e com um nível de vida bem uosp pra sustentar,
o afrodescendente deu uma guinada no tempo e estabeleceu-se como
escravo núbio, pagando percentagem aceitável a Fátima,
que agenciava seus serviços para as muitas de Lesbos vindas,
ô ilhazinha populosa!... E ninguém diria, de Lesbos...
JJ
resolve todos os problemas, inclusive o de Simona (Mônica
Bellucci), apelido carinhoso de Mafia, filha de Ângelo Bonasera
(John Turturro, o anjo da boa-noite, que todos temos, assim dizem,
sempre em guarda), um godfather corleoníssimo – para
Jack, em sua casa, "Está seguro aqui, não é
como no cinema" –, certamente a melhor coisa deste
filme ruim de Spike Lee. Denuncista – da antiética
empresarial, da hipocrisia racial, da corrupção
sistêmica, até da carolice de Salen que grassa por
lá, "Deus abençoe a América!" –,
denuncista, sim, mas ruim.
No
entanto, só de ver a Mônica Bellucci... E a Kerry
e a Dania, claro... Mas, a Mônica Bellucci... Quisera tê-la
conhecido antes, no tempo das matinês, quando restava-nos
sonhar não com o grandioso do belo verdadeiro, mas com
a elefantíase de beiços, bundas e peitos, lollobrígidas
e sophias lambuzadas de macarrão, goeludas, espalhafatosas...
Mônica, não. Um colosso (de Rhodes, mas venusiana)!
E quieta. Quieta bem como tem que ser uma mulher que a gente queira
pra sempre ao lado. Melhor, impossível! Só se for
muda... Mas... Muda geme?...

Ocá
José
Carlos Queiroga
O
Neil Diamond (podem rir, jovens desaforados pós-jurássicos)
era um cantor romântico que muito embalou meus amores na
juventude. Nunca soube muito bem o que estava ouvindo, até
porque prestava atenção em outra coisa, mas a melodia
sempre enchia de “mel o dia” (também não
gostaram do trocadilho, jovens feitos de chips?), ao menos o meu
dia – e noites.
Pois o Neil Diamond cantava uma
música que muito me emocionava, “Solitary Man”,
pela mensagem que a letra, inspiradíssima, passava e da
qual eu compreendia apenas o significado do título, mas
era capaz de traduzir inteira, com os “ou-ous”, os
“lá-lás”, “xubi-dubis” e,
sem querer exibir-me, inclusive com os “lows” (“loves”,
amores para quem não é do ramo) e os “beibis”
(que sempre me sugeriram um quê de pedofilia e vertigens
de “bonecas” de baby-doll; de “pequenas”
sapientíssimas).
“Solitary Man” fala
de um homem solitário – e se não fala, o Neil
Diamond gozou com a minha cara esse tempo todo – , mas,
tenho para mim, que diz mesmo da solidão dos homens. A
associação com pedofilia linhas acima, não
por acaso ocorreu-me e agora pesquei o troço: Lolita.
Já viram alguém mais solitário do que o professor
de minha-idade que apaixona-se desabridamente por aquela bonequinha
de rubro biscuit (estão rindo de novo, jovens de matéria
plástica, inquebráveis, práticos e do 1,99?).
Estou entre os que professam a tese
filosófica, geralmente proferida entre o gole e o arroto
(ou vômito), de que, por mais que o companheiro de mesa
ronque, estamos sós no mundo; somos homens solitários
a debatermo-nos neste vazio existencial de que só nós
sofremos nossa ressaca, só nós sentimos nossa dor,
só nós morremos nossa morte.
Ex-professor como o quarentão
de Lolita, tive muitos alunos e alunas que –
pasmem! – não riam de nós, solitários
lá na frente, ganhando a miséria de sempre e persistindo
na audácia de tentar ensinar-lhes algo. Alguns alunos e
alunas sabiam que não sabiam tudo, e que tampouco nós
o sabíamos, solitários contra o quadro negro, a
pedra fria. Falei com dois deles esta semana: Laerte Dorneles
e Fernando Grbac Perez. O primeiro mora em Novo Hamburgo; o segundo,
depois de temporada em Uruguaiana, acho que anda por Aldebarã.
Ambos solitários por natureza, sofrendo ainda a solidão
do exílio.
Esses dois jovens, com grande potencial
para a produção de textos – talvez futuros
literatos – também não conhecem o Neil Diamond,
a exemplo dos risonhos de sua idade, mas creio que manjam muito
de inglês. A cada vez que me telefonam, e o fazem com freqüência
hebdomadária (ah, ficaram quietos?! corram ao dicionário,
hienas de butique!), reforçam um outro sentido para a música
emocionante do Diamond: garantem-me que fala dos homens “solidários”,
aqueles que, solitários, ligam para mim.
Continuem procurando-me, ocá?!

Rolha de poço
José Carlos Queiroga
Esses dia vi um filme inglês, dirigido por Mike Leigh, com
Timothy Spall vivendo um gordo pai de família suburbana,
motorista de táxi sempre correndo atrás da máquina
– e nunca a alcançando, senão, qual a lógica?
–, casado com uma caixa de supermercado, muito exigente com
os de casa, fria com o marido, pais ambos de uma gorducha faxineira
de uma clínica e de um gordachão que não
faz nada, a não ser esparramar-se como um peixe boi –
e eles estão em extinção, Greenpeace urgente!
– no sofá, frente à televisão, ou brigar
com os – sempre menores – vizinhos de condomínio.
Os vizinhos de condomínio. A dentuça colega de trabalho,
humor inabalável, mãe de uma jovem garçonete
que relaciona-se com um marginal – tem até cicatriz
na cara! – e que dele engravida. A adolescente do chiclé,
que diverte-se em provocar sexualmente o retardado do lugar e
o namorado da garçonete, filha de uma alcoólatra
de cair em bar e de um também motorista de táxi
que está sempre batendo o carro, e que prefere mesmo ficar
em casa, bebendo com a mulher. Os prédios são cinzas,
precocemente decrépitos – pelo mau uso, pela indigência
dos componentes frente ao tempo –, como os moradores, recortes
da infelicidade que grassa nas metrópoles e parece não
ter cura.
Aí o gordo Timothy Spall pega uma passageira dessas empinadas,
que, com sua conversa doutro mundo, cutuca fundo a barriga dele,
bem no chacra do umbigo, a cócega machucando, unhuda. Deixa-a
em um endereço desses ingleses, pontualmente ingleses,
de fraque e cartola, ao contrário do condomínio,
universal, unívoco como a pobreza. Deixa-a e abilola. Desliga
o rádio, o celular, a porção da cabeça
que pensa o trânsito diário, as obrigações
profissionais, as familiares, e pega uma rodovia que vai dar no
mar. O gordo senta nos seixos da praia e fica – as ondas
também não ligam a mínima, balofo!
Enquanto isso, o filho, envolvido em mais uma briga, sente que,
espremido entre as camadas graxas de seu corpanzil de elefante
hooligan, tem um músculo. Sedentário, preguiçoso
mesmo, mas, pressionado pela banha do porco que o aprisiona, começa
a espernear, falta-lhe oxigênio e, sem oxigênio, nem
hooligan agüenta, basta ver a tragédia daquele estádio
anos atrás. Cambaleia. A adolescente masca seu chiclé,
mas tem os olhos semi-livres sob a franja, de modo que vê
aquilo e – qualquer um sabe o truque de esconder a goma entre
a arcada e a mucosa, pra não engolir e colar as tripas
– consegue pedir para a mãe chamar socorro. A bem
humorada futura avó é outra que vê. A bêbada
não parece que consiga fazer algo, então a filha
sobe, “correr, ligar, ligar”, deixando o sapão-cururu
nos braços da dentuça. Chega ao apartamento e a
mãe afaga o pai no sofá, ambos vocacionados para
a toxicopatologia, de jeito nenhum para a telefonia ou a emergência.
Xinga-os.
A mãe do rolha de poço e a irmã vão
para o hospital, onde ele já está, bem como gosta,
atirado numa cama enorme, não precisa nem fazer força
pra chupar canudinho, a comida entra diretamente na veia, e, de
repente, todos são simpáticos com ele. Se soubesse,
bem que poderia ter precipitado os acontecimentos, brigava todo
dia! Mas faltava o pai, que, diferentemente da mãe, não
enchia o saco, não ficava pegando do seu pé como
quem pega – com as duas mãos – o rabo do peixe-boi.
Onde andaria o pai?
Não digo.


Divulgação MGM Divulgação
MGM
Digo
Acima, o gordinho
Spall e sua família, à mesa. Após o incidente
com o guri, o ator conversa com a mulher, bota os pingos nos “is”
quanto aos sentimentos que nutre por ela, pelos filhos –
e todos sabemos que os “is” já vêm com
pingo no teclado, a coisa já ali, latente, como os pingos
da chuva evaporando pro céu, e a gente nem nota e vive
a chover no molhado, isso é que é, assim são
as coisas, tudo em vão, não fossem as lavouras,
sempre tão necessitadas, os lavoureiros e suas camionetas
importadas, a Bolsa de Chicago... –, desabafa, chora, cena
tocante, linda, verdadeira. Tão linda que até gostamos
que – neste específico instante muito particular
– as mulheres não sejam mudas, como as rosas, pra
bonito apenas.
Vale locar. Precisamos, às vezes, lubrificar os olhos,
porque somos feitos de areia, da mais farelenta. E os olhos, então,
são como as terras mal usadas, viram deserto. Ninguém
queira pro pior inimigo uma erosão de córnea.
|

Perdido na tradução
José Carlos Queiroga
Minha porção mulher sempre foi preponderante. A mãe,
a babá, as duas irmãs, as duas filhas... Até
minha mulher é mulher.
Podem falar, não ligo.
Acabei de assistir Encontros e Desencontros (Lost in Translation),
escrito e dirigido por Sofia Coppola, pimpolha do Francis Ford,
aquela feiosa que, se bem lembro, deveria ser a Cinderela em um
dos Chefões, mas acabou no papel de carruagem, a roupa e
seus traços de roça compondo uma original caracterização
de abóbora. Pois a guria, dirigindo, de batata não
tem nada. Já em As Virgens Suicidas mostrou toda uma competência
artesanal comparável à molecular de, por exemplo,
Sharon Stone, quando cruzou as pernas naquele outro filme do tempo
em que o Michael Douglas vivia dizendo que era viciado em sexo só
para faturar como galã (antes do Russel Crowe fingir-se gladiador,
o Bush, inocente, e a Madonna, atriz). Pergunto: na-na-na-não
tem Lojas Marisa nos EUA, Lombardi? E no Japão, Lombardi?
He-hein, Lombardi?
A resposta é não, Sílvio, mas bem que poderia
ter o Baú da Felicidade.
A calcinha de Charlotte, rosa transparente, é a primeira
tomada de Encontros..., ela dentro, a inteiriça bunda dando
ó para a câmera. Desde então (Charlotte mexe-se,
sempre presa na casta peça, baratinha nas Marisa) firmei
convicção de que o filme é sensacional, nada
menos do que um Cult (dêem tempo ao tempo, ó impacientes!).
Porque têm coisas que a gente, num lampejo, percebe toda,
e a bunda, em uma mulher, é uma dessas decisivas coisas (ver
a postura de Napoleão em Waterloo, foi-se a guerra), não
só pela localização central no corpo (a virtude
está no meio), como pelo necessário equilíbrio
que nele determina, brotando dali acima a curva da cinturinha e
logo os seios, florais, enquanto que, dali abaixo, num frenesi radicular,
as pernas, cujas coxas já lá estavam na primeira imagem,
a informar ao grande público que a mulher é perfeita,
calma, nada lhe falta, fez o teste do pezinho e tudo, mas, capciosamente,
cortando o resto.
Só depois fomos verificar que Charlotte gosta de abraçar
os joelhos (naquela posição dita “fetal”,
a pudicícia do falante trocando causa e conseqüência,
mancomunada com Sofia, evidentemente, para que prestemos atenção
às lágrimas, não se trata de um filme erótico,
apesar da presença de Bill Murray, e rir nem sempre é
a reação adequada, como se sabe, A paixão de
Cristo o comprova, Jesus nunca riu)... Charlotte gosta de abraçar
os joelhos e ficar olhando longe, sempre só de calcinha,
com uns beiços de deixar qualquer batom assanhado. Mesmo
então, e nunca em todo o filme, aparece de cabo a rabo. Há
filósofos a sustentar que tal não acontece porque
a moça não sabe bem o que é ou vai ser, segundo
suas próprias palavras, perdida em um mundo que não
entende, a tiracolo de um marido que não conhece bem, judiaria,
persona incompleta, a contradizer a inteiriça e supracitada
bunda, o que só dá ao filme maior dimensão
artística (aquele negócio de forma e fundo) e antropológica,
lembrando que o termo deve vir do grego, como Platão e Aristóteles.
Interessante que Bill Murray, Bob Harris, ator que está no
Japão para filmar um comercial de uísque, foi indicado
para o Oscar e ganhou o Globo de Ouro, enquanto que Scarlett Johansson,
a Charlotte, que fez filosofia em Yale, passou despercebida.
Como não a notaram?
Eu só tive olhos para ela o tempo todo!
Um amigo me consola: “Claro, ele é ator e o Oscar ainda
não instituiu a categoria Filósofa!”
Tem razão, lógico, mas eu não quero saber.
Só por que o chato, que sempre posa de engraçadinho
blasé, conteve-se um pouco mais? Só por que, na solidão
do hotel, ao telefone com a esposa, ela pergunta, “Preciso
me preocupar com você?”, e ele responde, “Só
se você quiser”... por isso?
Esse Globo de Ouro não é de 18 quilates, talvez o
penhor da Caixa nem o aceite e, eu vi, ele estava sentado em uma
das primeiras filas do show do Oscar, todo pimpão, certo
de que também ia levar a estatueta banhada, como se o Sean
Penn não existisse, e traumatizado... Prepotente!... Aliás,
o blasé não passa disso mesmo, um prepotente; desdenha
tudo à sua volta, como se o mundo inteiro girasse à
sua volta (daqui a pouco, está tonto e cai, o Fidel não
quebrou o joelho em oito pedaços?). Por quase isso, Galileu
virou churrasco. E, quanto ao telefonema do Bob, não esqueçamos
o de Charlotte para a mãe (ou alguém equivalente),
que nem percebe que a guria está aos prantos, afinal, uma
multidão nas ruas e tudo japonês, a mãe, mais
preocupada com os pequenos, o trivial dia-a-dia. E as grandes questões
da existência? Assim, como é que a gente pode ser feliz
em Tóquio... e sem o Baú?
Mas o filme é bom, sem dúvida. Meu amigo Laerte diz
que, entre outras coisas, “porque não se rende a soluções
fáceis, eles poderiam ter ido para a cama”. De fato,
e não que Bob não quisesse, tirou os atrasados com
a crooner ruiva. O sentimento que foram sedimentando não
comportava “troca de fluidos”, diz ele. Aí já
não sei, mas se eu fosse o Bill Murray, faria como o Humphrey
Bogart e trazia ela no muque, lembremos do sucesso de Rett Butler
com outra Scarlett, a O’Hara, no muque e de bigodinho. E chegamos
ao ponto: o Bill não é uma ator, é um comediante,
e blasé, ninguém espera dele que tome atitudes, mas,
sim, que faça caretas. O máximo que consegue é
mandar parar o táxi (mas isso, qualquer um, os motoristas
estão sempre às ordens, “Toca para o aeroporto”,
e eles não nos deixam na rodoviária... O problema
é: e quem tem medo de avião?). Pára o táxi
e sai atrás dela para um último abraço, comovidos
ambos, sussurra algo em seu ouvido, ela sorri, “OK”,
pronto.
O que disse ele?
Tem um conto do Tchekov, os jovens descem a montanha naqueles carrinhos
de rolimã para neve, o deslocamento do vento, os ruídos
gelados, ele sopra baixinho, “Te amo”, ela pensa que
ouve algo, mas não tem certeza, nunca vai saber.
Mas o Bill, ele deve ter explicado que é um americano típico,
daqueles assim “à primeira vista”, caricato como
os japoneses do filme, e tinha que voltar para o mundo, the world,
compreende?, America. Ainda bem que tudo acabou bem; é no
andar da carruagem que as abóboras se ajeitam. E quem quer
finais felizes? A vida é que não pode parar! Se a
câmera seguisse Scarlett, quebrar-se-ia o encanto; ela certamente
estaria tendo conversas adultas, em inglês, com seus amigos,
japoneses de verdade, talvez até trocando fluidos, uma princesa
daquelas, talvez “em posição fetal”, que
é como tudo começa e termina, aleluia!
|
 Da
Concha Da
Concha |
Todo mundo
já tinha visto Invasões Bárbaras e me contavam
sua – geralmente boa, apaixonada – impressão
sobre o filme; só eu parecia um desses bacudos do Alegrete,
alheio ao que vai pela galáxia, ignorante das últimas
fotos de Saturno. Como entendi que minha opinião plasmar-se-ia
mais a contento com minha pessoa – assim, em nível
de mim mesmo, compreendem? – assistindo o sucesso do canadense
Dennys Arcand, e como as locadoras de Alegrete já o tinham,
resolvi pagar para ver. Conclusão: vale os quatro pilas.
Cinco, seis, sete? Não sei. Com isso se compra um Concha
y Toro em Libres. Em outro filme, cujo comentário podem
ler no texto que vem logo abaixo deste, Revelações,
a irmã do professor diz para o escritor amigo: “As
pessoas, hoje, estão mais burras. E com mais opinião!”
Bingo!, exclamaria um que fechasse sua cartela. É impressionante:
opinam sobre tudo sem o menor pudor. É o Edmundo, o Romário,
a Xuxa, o Tiririca... Bueno, então...
Não vou contar o filme, seria chover no molhado, também
porque penso que “chover no molhado” seja uma boa
expressão para que bem nos coloquemos frente à
obra. O professor Rémy, com câncer terminal, diz:
“Não consigo me resignar”; “Eu terei
desaparecido para sempre, e tão despreparado como quando
nasci. Não achei um sentido para as coisas”; “Fracassei
em tudo”. Lembro-me imediatamente de Blade Runner, a cena
da luta no alto do prédio, o replicante (Rutger Hauer),
tendo dominado o caçador de andróides (Harrison
Ford, Indiana Jones do futuro), chorando, olha para o céu
chuvoso (Deus?) e pergunta se sua vida era isso mesmo, nenhum
sentido, escoando-se como “lágrimas na chuva”
(de onde Sérgio Faraco tirou o título de seu belo
livro). Afora Brás Cubas, que não teve filhos
para não perpetuar sua miséria, todos gostaríamos
de deixar algo de nós no mundo, mas, claro, que não
fossem seqüelas (ando irritado com essa história
de “histórico familiar” que os médicos
estão sempre brandindo contra mim, coronárias,
próstata... Qualquer dia, não sei...). Enfim,
tudo se resume a Borges: “Eu, que tantos homens fui, não
fui nunca / Aquele em cujo abraço Matilde Urbach desfalecia.”
Fracasso total.
O professor pegou a geração do ativismo político,
o fim dos anos 60, começo dos 70, a luta pelos direitos
humanos, pelo socialismo, por todos os ismos que, junto aos
amigos, diante do fogo primacial, desdenha, auto-ridicularizando-se.
Por que o fazem, os velhos? A menina viciada, que fornece heroína
para aplacar as dores crescentes do moribundo, mata a cobra:
“Não queres deixar é tua vida passada, não
a atual”. Quem não gostaria de ser jovem sempre?
Puxa! Eu, de bom grado, voltaria a cagar nas calças,
se isso, na minha idade, não fosse apenas sinal de senilidade
e de pouco dinheiro pra comprar fraldão. Os amigos –
arrebanhados pelo filho, um bem sucedido capitalista, que, inclusive,
paga antigos alunos para que visitem o pai, demonstrando-lhe
um falso sentimento de gratidão, de respeito –,
que não têm câncer na cabeça, comportam-se
da mesma maneira, estúpida, diga-se, obtusa, coisa muito
feia para intelectuais. O assunto predileto era de como comiam
e/ou davam, tipicamente geriátrico, nada a ver especificamente
com a geração “paz e amor”, jovens
que pensavam em mudar o mundo. A julgar pelos velhos patéticos
em cena, eles apenas pensavam que pensavam em mudar o mundo
e, por isso, mudaram foi coisa nenhuma. Rémy submete-se
aos métodos – ao dinheiro, que tudo compra –
do filho, cujas idéias, qual cogumelo na merda, germinaram
sobre os escombros da geração que está
com os pés na cova, ou já na cova, que onde cabem
os pés, costuma caber o chapéu inteiro.
Ah, o sistema de saúde... Um outro filme recente guarda
muita similitude com o canadense: Adeus Lênin!, de Wolfgang
Becker. Nele, a mãe de Alex, na Berlim oriental, sofre
um enfarte e vai para o hospital. Fica em um quarto individual
e, a julgar pelos tubos, não contei, e os aparelhos com
luzinhas, tem um atendimento digno, vip perto do de Rémy
(antes da chegada do filho, que suborna os sindicalistas e também
consegue uma suíte para seu papi). Propaganda vermelha?
Quem duvida... o insidioso vermelho tá no sangue, e o
Trabant era – manobra diversionista! – azul celeste.
Mas, como dizia, a mãe de Alex... ela perde o espetáculo
da derrubada do muro, o Bial lá e tudo. Como é
uma socialista praticante, e não deve ter sobressaltos
maiores – o médico avisara, pois não resistiria
a outro ataque –, Alex leva-a para casa e a confina no
quarto, cuidando pra que não descubra a derrocada do
sistema que ajudava, como a um bêbado pesado, a manter-se
em pé, e o pé é sinal de perna, que embute-se
no tronco onde está plantada a cabeça. A cabeça,
que não serve apenas para cabide de chapéu.
Alex, no afã de poupar a mãe – seu pai fugira
para o outro lado muitos anos antes, onde tornara-se um bem
sucedido médico; ela, com medo, não cumprira o
combinado, ficou, entregando-se mais e mais à causa,
compensação evidente –, sabem como são
os filhos, a exemplo de Sebastien, providencia os amigos e até
paga uns meninos, ex-alunos da doente, para que a visitem e
cantem as canções antigas. Diante das dificuldades
materiais, Alex ainda é mais minucioso e determinado
do que Sebastien, chegando a produzir, com a ajuda de um colega,
noticiários no padrão socialista, que gravava
em vídeo e passava para a mãe, satisfeita nos
travesseiros. Porque há uma diferença crucial
entre os dois gestos filiais: Sebastien tece sua teia com notas
altas (lembro daquelas cortinas de papel de cigarro que os menos
aquinhoados faziam aqui em Alegrete, emendando-os e colorindo,
movimentando um pouco o buraco entre a sala e a cozinha exíguas),
como um autômato: problema?, toma!, nenhum problema, as
feições de pedra, um príncipe das hordas
bárbaras. Já Alex desdobra-se, puro amor. A religiosa
ensina a Sebastien: “Diga que o ama, toque nele”.
Nada teria a ensinar a Alex, vejam, a solidariedade espontânea,
os dois barbudos, Cristo e Marx, no mesmo barco: mas não
adianta, a gente vive, pensa, se emociona e este Caronte filho-duma-puta
sempre vem, nas horas mais impróprias.
Aquele Lênin de ferro, amputado de seu pedestal, voando
de helicóptero sobre Berlim, bela imagem, grandiosa –
como os templos comunistas, a Praça Vermelha, o muro
–, grandiosa e terrível ao mesmo tempo, encontra
paralelo em uma seqüência de Invasões Bárbaras:
quando Sebastien, sem tempo para bobagens, tem que voltar a
seu computador, suas transações interespaciais,
empresta o apartamento de Rémy para a viciada, o apartamento
e a biblioteca – de Borges; daquele mosteiro medieval
de Eco, que guardava a Comédia aristotélica; de
todos nós, perdedores –, e ela gosta, finalmente
alguém no mundo cínico de Arcand tem olhos para
os livros, olhos interessados, prometendo-nos, o canadense,
que dali, qual Fênix, etc... Pela heroína, salva-se
Rémy das últimas e horríveis dores, e salva-nos,
a heroína, a cultura preservada, revivescendo, talvez,
dos restolhos humanos, champignon legítimo. Françoise
Hardy (sonho erótico do velho professor) canta, enquanto
o pano cai: “Muitos dos meus amigos vieram das nuvens
/ Com sol e chuva como bagagem. / Fizeram a estação
da amizade sincera, / A mais bela das quatro estações
da Terra. / (...) Se me resta um amigo que realmente me compreenda,
/ Me esquecerei das lágrimas e penas. / Então,
talvez, eu vá até você / Aquecer meu coração
com sua chama”.
Camaradas! Amigos, irmãos, camaradas! Guardem o Lênin
cindido! Numa caverna que seja, o fogo sempre aceso e o filminho
na concha das rochas rudimentares.
|
 Nicole Nicole |
|
| Apaixonei-me
perdidamente por Nicole Kidman.
Sofro feito bicho.
Perdi a fome; passo em cima da cama, com a TV ligada num canal
sem recepção, só de ruídos e imagem
P&B granulada; vou aos pés no penico; se obrigam-me
a sair, ir ao médico, ao banco... vou aos trambolhões,
como pau de enchente, amparando-me em cada dejeto um pouco mais
sólido das sarjetas, gelatinoso, flácido, vil; calado,
mudo irredutível, surdo; não conheço ninguém
dos que me acenam, vou e volto; nem banho tomo, não sinto
vontade; minha vida perdeu o sentido, como daquela vez, dez, onze
anos, quando quis casar de papel passado com Liz Taylor (a de
Gata em Teto de Zinco Quente), e meus pais, terminantemente, não
deixaram. Só que, com Nicole, a coisa é mais séria,
meu coração já não agüenta certos
repuxos.
Em Dogville, Lars von Trier, faz gato e sapato dela, um horror.
Dá-lhe, ao menos, a chance final de cobrar-se de seus algozes,
e Nicole o faz, exemplar e crudelissimamente, filha de Gengis
Caan, cada vez mais inverossímil (como o Cauby, viram a
roupa, a maquiagem, a peruca do Cauby? Só falta ele sair
cantando “Conceição, eu me lembro muito bem”
pela rua que a carrocinha pega, ah, pega). Mas, de vingança,
foi pouco. Imaginem que Nicole tinha de transitar em um cenário
que não era mais do que uma planta baixa de rua, com suas
casas, passeios, cachorro, jardim, desenhados no chão;
casas sem paredes, sem portas, que os atores abriam com mímicas,
como nessas peças-cabeça de alto orçamento,
ingresso caríssimo, que todos aplaudem de pé no
final, loucos pra irem pra casa, ligar o lençol elétrico
(e morrer! nunca mais! morrer!), ou nos circos de toldos rotos
– uma porta interna, daquelas ocas, que um soco fura fácil,
não sai por menos de 50 reais, já imaginaram uma
cobertura nova? Mas, ao menos, os palhaços são dignos,
maltrapilhos, defasados, palhaços.
Li em algum lugar um bate-papo entre von Trier e Paul Thomas Anderson
(de Magnólia). Anderson afirma amar os atores, Trier muito
ao contrário. Mas – um mais para o extenso rol –,
é nítido no que diz, também apaixonou-se
por Nicole. Queixa-se que anda “amortecido” à
espera de que ela ache um lugar em sua agenda para rodar os outros
dois filmes da trilogia que começa com Dogville; chama-a
de “estrela maior que a vida”; está enlouquecido
por ela, vê-se. Mas, depois que deixou Tom Cruise (coitado,
esforça-se em O último samurai, mas falta-lhe Nicole),
que a tolhia, a ensombrecia, cioso de preservar-se como o nº
1 do casal, vaidoso, o pitoco, nossa Vênus só faz
o que quer, e só quer fazer o que é bom, e o faz
muito bem, cada vez melhor. Cresceu e está “maior
que a vida”, em certo sentido, naquilo que a tela tem de
gigantesco; que a câmera tem de imiscuir-se tão profundamente
no banal que é a vida neste mundo das cadeiras enfileiradas,
das nucas escuras recortando a reles realidade contra o milagre
iluminado da imagem em movimento, abrindo grandes closes, desnudando-nos
pelos poros hiperbólicos, pelas nuances de lábios,
pelos brilhos e opacidades do olhar no écran, transformando-nos,
pela empatia – porque Nicole, na tela, é uma pessoa
como nós, não a deusa –, em homens profundamente
infelizes, como Tom e Lars ultimamente, que, como nós,
imaginaram um dia que a tinham ao alcance de suas mãos,
de suas vontades, mas era tudo cinema.
Acabo de assistir Revelações, de Robert Benton,
com Nicole, Anthony Hopkins, Ed Harris e Gary Sinise, excelente
elenco, que cito apenas para destacar o quanto pode esta mulher.
Faz uma sub-empregada, bicos aqui e ali, para, ocupando-se, não
pensar, fugir das tragédias passadas, abusos paternos,
perda dos filhos num incêndio, marido ex-combatente no Vietnã
(Harris) – imensa chaga americana, mas eles querem mais
–, tentando abstrair-se de sua história pessoal inventando
outra, escorada em vícios, dissoluções –
história in absentia, como diria Don Bagayo y Balurdo.
Conhece um velho professor acusado de racismo (Hopkins), viúvo,
impulsivo como o boxeador que foi nos tempos de escola, suficientemente
forte (em aliança com os clarins cavalarianos do Viagra)
para lutar por seu “último amor” – contra
a sociedade, claro, mas em causa própria, que, seja qual
for, senão a mais nobre, é a mais justa, como um
terno feito sob medida, um terno de gala, porque Nicole vale.
Uma cena muito bonita – ao menos para nós, entrados
na terceira idade – acontece quando o professor conversa
com o amigo escritor (Sinise) e toca no rádio Cheek to
Cheek. Ele começa a dançar, Fred Astaire em O Picolino,
e convida o amigo, Ginger Rogers, “Não estou dando
em cima de você, vamos, vai te fazer bem”, e dançam,
dois homens, rindo, divertindo-se, só porque, de fato,
é bom, faz bem soltar-se sempre que o impulso vital mandar,
“vamos!”. Pena que só nós, na terceira
idade, sabemos que o alegado “senso do ridículo”
é esfarrapada desculpa de homens ainda frescos, inseguros
quanto ao limiar entre o bom senso e a redutora auto-censura.
Cena bonita. Se há outras, mais do que essa? Há.
Todas as que envolvem Nicole. Muito melhor do que von Trier, Robert
Benton soube captar a beleza integral da mulher, sempre atrás
do cigarro, cabisbaixa, com os caracóis no rosto, tudo
ali, nas tomadas fechadas, o rubor genuíno, a agressividade
animal (Trier diz dela: “desumana atriz”, de tão
humana), seu nervoso fremir na jaula do corpo. “É
que von Trier não queria isso”, ouço de alguém,
como se o pedante dinamarquês tivesse querer em se tratando
de Nicole.
Então, que estou apaixonado.
Don Bagayo acha normal, “Mas, e a minha mulher?”,
“Ora, não são paixões excludentes,
a vida é curta”.
Será? Não será?
Ele coloca um antigo vinil na vitrola, identifico os acordes e
vem-me Astaire, Cheek to Cheek, rítmico e elegante roçar-me
os ouvidos. Don Bagayo abre os braços, “Vamos!”
E vou, nada tenho a perder, a morte é certa. |
 Gauche Gauche |
|
| Gosto
muito de Sam Shepard, entre outras coisas porque é marido
da maravilhosa Jessica Lange (de Frances; Um sonho, uma lenda;
Tootsie; O destino bate à sua porta; King-Kong –
lembram? Belíssima sereia nas manoplas da fera, completamente
apaixonada por aquele bibelô indecifrável). Mas,
além disso, Shepard é também um grande ator
(O viajante) e um grande, grandissíssimo, escritor. Li
em algum lugar que é o maior dramaturgo americano desde
O’Neill, o que não é pouco. Só conheço
uma peça sua, Loucos de amor, que dilacera quem a lê
(eis-me, em postas), tal o poder da palavra de Shepard e sua meticulosa
e explosiva construção do drama. Num palco, deve
ser algo.
Tudo que encontro dele, compro. Atualmente estou lendo os contos
de Cruzando o Paraíso. A mesma prosa limpa e os mesmos
personagens secos. A região preferida: o deserto, o sul
árido, o meio-oeste antigo. Shepard trata de loosers, os
perdedores em uma nação que idolatra o sucesso.
Seus loosers têm sonhos que sabem irrealizáveis,
ou então, o que dá no mesmo, têm sonhos que,
realizados, nada resolvem. Porque ele sabe, como nós sabemos,
que uma vez conhecendo a vida cara a cara, uma vez tendo levado
um encontrão dela – opa! companheira! –, o
que era verde, seca, racha. E a água de refrescar, o sol
escalda. O rosto de Shepard, vincado, os olhos tristes que tem,
a voz saindo difícil pela voçoroca entre os lábios,
vinda do subterrâneo da alma, emociona-me. Viram Paris-Texas
(Win Wenders)? Existe filme mais dilacerante e vívido,
tanta a miséria, tanta a falta de soluções,
tanto o deserto e aquele homem que caminha só na imensidão
inóspita atrás de seu passado? Paris-Texas é
o meu filme dentre tantos, e o roteiro é de Sam Shepard.
Melanie Griffith me traz a mesma sensação de Shepard
e seus personagens. Filha de Tippi Hedren (a bonita de Os pássaros,
de Hitchcock), como costuma acontecer quando os pais famosos dedicam-se
mais à carreira do que à família, muito jovem
já pintava e bordava, envolvendo-se com álcool e
drogas. Isso marca uma criatura, e não só no íntimo
que está na cara, mas na cara que expõe o íntimo;
nos vincos rugosos, nos olhos tristes. Melanie, ainda jovem, já
trazia scarfaces de suas escolhas. Saibam que a amo. E, por falar
nisso: o que o Banderas tem mais do que eu? Também sou
latino, moreno (vocês não sabem do que uma tintura
é capaz), forte (com um novo estilo de distribuição
muscular, privilegiando o chacra da barriga) e sou até
capaz de dizer “Barcelona” com a língua enrolando
no céu da boca no “ce”, cuspir se for preciso,
babar...
Falo de Melanie porque vi esses dias Eternamente Lulu (de John
Kaye), com a própria e mais Patrick Swayze e Penelope Ann
Miller. Lulu, parece-me, à distância, é como
vestir uma segunda pele para Melanie. Viciada, louca, internada
em uma instituição, foge e convida seu antigo namorado
para visitar o filho de ambos, que o pai nem sabia existir. E
saem, atravessando o deserto (o deserto!), atrás do passado;
do que nos pode trazer de oxigênio o passado, de outra maneira
perdido nas fímbrias da eternidade: um filho. Não
em fotos, mas vivo, falando, caminhando (as duas formas mais explícitas
de humanidade: a palavra articulada, o pensamento, e, alvíssaras
para quem o tem, um caminho à frente, um objetivo, uma
razão de viver).
Em Frances, Jessica Lange fazia Frances Farmer, atriz dos anos
40 que, enlouquecida, foi confinada a uma instituição
(como a de Lulu). Roubaram-lhe o Oscar, então. Jessica
e Melanie são especialistas em papéis de quem virou
“gauche na vida”, como escreveu Drummond. Mas completamente
“gauche”, a ponto de tentar o suicídio –
umas 30 vezes, no caso de Lulu; várias quanto a Frances,
até que conseguiu. Pensei em escrever “até
que foi bem sucedida”, mas travei a pena: o que poderiam
pensar os jovens que me lêem (e os há). Mas Lulu
não consegue e o filme caminha para um final apaziguador
– tanto o sofrimento.
Dentro do filme – e isso também constrói a
teia deste texto como construiu em mim a emoção
– há um outro filme, The Hustler, que os antigos
namorados (Melanie e Patrick) viram incontáveis vezes e
sabiam os diálogos de cor. O “nosso filme”,
diz Lulu, como costumamos dizer “a nossa música”
ou mesmo – por que não?, tudo é Hollywood
– “o nosso filme”. Os protagonistas de The Hustler
são Joane Woodward e Paul Newmann. Vejam a teia fechando-se:
Paul, com os falecidos Mastroiani, Lemmon e Fonda, é um
dos meus atores prediletos (com quem Melanie, ninfetinha, iniciou-se
no cinema em A piscina mortal). Quando jovem, antes de querer
ser Jorge Luís Borges, eu quis ser Paul Newmann. Nunca
pude. Mas continuo caminhando, meio que ziguezagueando pelo deserto,
só pedindo aos deuses que não me façam nunca
antes do tempo, ou cego, ou surdo, ou completa e irreversivelmente
gauche.
|
 Índios Índios |
|
| O
guerreiro sioux, ao alvorecer do dia em que enfrentaria batalha,
deixava sua tenda nas pradarias, olhava para a paisagem, o céu,
e, “Hoje é um bom dia para morrer”, dizia.
(Se estivesse chovendo, talvez dissesse: “Hoje é
um bom dia para não sair da tenda, dormir o tempo inteiro,
procriar, por que não!?”) Muitos filmes recriaram
a cena, tornando-a épica. Provavelmente em Pequeno Grande
homem, o “filme de índio” da minha vida, direção
de Arthur Penn e atuação antológica de Dustin
Hoffman, ela está lá, interpretada por Cavalo Louco
ou Touro Sentado. Mas não lembro. Lembro que o filme é
magnífico e desmitificador da história americana
e de gente como Custer, o “cabelos amarelos”, um trucidador
egocêntrico. Vejam o filme, aproveitem, e leiam Enterrem
meu coração na curva do rio, de Dee Brown, que conta
toda a tomada do oeste americano pelos brancos, esmagando os “peles-vermelhas”
e sua cultura (e não é ficção, mas
História, e traz ainda belas fotos e mapas). Há
personagens interessantíssimos no passado dos EUA, como
o general Sheridan, que proferiu a frase que se transformou num
aforismo americano: “O único índio bom é
um índio morto”. Para Sheridan, escreve Dee Brown,
“qualquer índio que resistisse quando atacado era
um selvagem”.
Vi um filme neste fim de semana, no Brasil titulado como A árvore
dos sonhos, mas, no original, The war, isto é, A guerra,
direção de Jon Avnet, com Kevin Costner como um
ex-combatente do Vietnã que não consegue superar
os traumas das selvas tropicais e, quando volta para casa, encontra
os filhos Stu (Elijah Wood, ator excepcional) e Lídia (Lexi
Randall, ótima) em “guerra” também,
com os Lipnickis, um bando que vive em um ferro-velho contra o
qual brigam por um “forte” que construíram
em uma árvore (frondosa e de galhada aberta como se vê
muito em filmes ambientados no sul dos EUA – no caso, Juliette,
cidadezinha do Mississipi).
O traumatizado Stephen (Costner) não consegue fixar-se
em emprego nenhum por conta de seus “pesadelos” com
o Vietnã. Mas é um homem cheio de sonhos e esperançoso
de um futuro de paz. Depois de um de seus gestos, incompreendido
pelos filhos, diz: “A guerra nos consumiu e nos fez todos
loucos. Fico tentando o tempo todo perdoar a mim e ao meu país.
Não é da guerra, mas do amor que vem o valor de
um país”. Stephen é mais um dos milhares de
americanos mutilados, física ou mentalmente, que ainda
vagam pelos EUA com suas feridas abertas.
O filme é narrado por Lídia, que conta a história
em seu trabalho final do curso de verão, e que encerra
assim: “Aprendi neste verão que não importa
quanto a gente pense que entende a guerra; a guerra não
entende a gente. É como uma grande máquina que ninguém
sabe como funciona. Uma vez fora de controle, destrói os
ideais pelos quais lutava e as coisas boas que se esquece que
se tinha”.
Em 1866, em “audiência” com os chefes sioux,
cheyenne e arapaho, no Forte Larned (atual estado do Kansas),
o general Hancock dizia: “Soube que muitos índios
querem combater. Muito bem. Estamos aqui e viemos preparados para
a guerra. Se quiserem a paz, sabem as condições.
Se quiserem a guerra, preparem-se para as conseqüências.
(...) O homem branco está vindo para cá tão
depressa que nada pode detê-lo. Vindo do Leste e do Oeste,
como uma pradaria em fogo sob um vento forte. Nada pode pará-lo.
Isso acontece porque os brancos são um povo numeroso e
estão se espalhando. Precisam de espaço e não
podem evitar isso. (...) Não devem deixar seus jovens detê-los;
devem manter seus homens longe das estradas... Não tenho
mais nada a dizer. Esperarei o fim de seu Conselho para ver se
querem guerra ou paz” (Enterrem..., p.116).
O povo americano sempre resolveu tudo assim, na truculência;
é um povo “nascido para matar” (como no filme
de Stanley Kubrick). Vejam Duelo de Titãs, já na
pilha dos esquecidos nas locadoras, com Denzel Washington, e tenham
uma mostra de como são treinados os times do futebol deles.
Bush é um texano – como o personagem de John Wayne
em Álamo, expulsando os mexicanos e garantindo o Texas
para os EUA. Para eles, todos os demais povos são índios,
os quais devem-lhes subserviência. Se o mundo quer paz,
repetindo o general Hancock, “sabe as condições”.
O Bush ainda brinca de bandido e mocinho e gostaria, no íntimo,
de transformar-nos a todos os não americanos em “índios
bons”.
|
 Lubrificantes Lubrificantes |
|
| A
Baby (Consuelo) do Brasil esclarece que conversa com Deus e que
“Ele é lindo, usa barba e fala todas as línguas”.
Ainda bem, porque facilita, sabe?! Já pensaram um afegão
precisar de intérprete para pedir por suas urgências,
ou um brasileiro? E que língua teria de falar o intérprete?
Qual ou quais as línguas seriam as chanceladas por Deus?
Tenho a impressão de que, por via das dúvidas, aprender
inglês seria boa cautela. Mas se a Baby diz, está
dito, e podemos continuar com nossas orações que
Ele entende. O que deve preocupar os brasileiros é se Ele
está nos ouvindo. Com tanta interferência dessas
comunicações modernas, talvez nossos pedidos venham
caindo todos na caixa de mensagens do Bush. E o Bush é
bucha!
Não tenho nada contra os americanos em geral, no entanto,
afora o fato de serem, na média, uns imbecis egocêntricos
e mal educados. Em termos artísticos, literários,
aí são bons, quando não são péssimos.
Achei um fiasco Gladiador ter ganho o Oscar de melhor filme anos
atrás e Russel Crowe o de melhor ator. Lembrei então
o que as mulheres pareciam não ver: a total inadequação
física de Crowe para o papel. Alguns dos meus cinco ou
dez leitores torceram o nariz. Será que essa moda sertaneja
de usar óculos escuros à noite pegou também
no escuro do cinema? Pois Pauline Kael, a melhor crítica
da “sétima arte” dos EUA, recentemente falecida,
concorda comigo (e, vejam, que pena para ela, morreu sem saber):
“Fiquei chocada em ver como Gladiador é tecnicamente
ruim. Tem uma péssima edição e é absurda
a escolha daquele ator – qual é seu nome? –
como gladiador. Você olha para ele flexionando os músculos
e tem vontade de rir. Parece um dos três patetas.”
Alguns filmes, pela publicidade massiva, ou pelo glamour dos protagonistas,
fazem um sucesso bárbaro – nos dois sentidos; alguns
sugerem a barbárie de quem gosta daquilo. E outros, de
baixo orçamento mas alta qualidade, passam despercebidos.
Acho que sempre foi assim. Deus deve ter contado para a Baby que,
definitivamente, não era um superstar há dois mil
anos. E hoje, hein!? Só o padre Marcelo Rossi e o bispo
Edir Macedo quantos milhões já faturaram em Seu
Nome? – e apenas como intermediários, atravessadores.
Voltando aos filmes, tenho visto alguns desses que ninguém
percebe nas prateleiras e são ótimos. Dois picaretas
e um bebê é um deles.
Não liguem para o título, que tenta ser engraçado,
embarcando na linha de Três solteirões e um bebê
e mais uma penca de filmes com a palavra mágica “bebê”
no meio de quaisquer outras. O título original é
bem diferente, mas como não entendo inglês e esqueci
de apontá-lo (porque nada me disse, embora contenha a palavra
“nobody’s” e isso cheira-me a algo profundo
que talvez a Baby pudesse esclarecer). Conta a história
de dois órfãos criados em instituições
de caridade e que transformam-se em golpistas (alguma semelhança
com os egressos da Febem?), só que atrapalhadíssimos
como só eles mesmos. Gary Oldman está impagável
como o malandro mais velho e Skeet Ulrich, grata revelação,
faz um simplório de bom coração cuja inocência
transparece nos menores gestos. O elenco traz ainda a boníssima
Mary Steenburgen, Radha Mitchel (bonita demais) e Mathew Modine
em uma ponta. A direção é de David Seltzer,
um jovem futuroso.
Um outro filme esquecido nas prateleiras e muito bom é
A chave do sucesso, de John Swanbeck (muito prazer!), com Kevin
Spacey e Danny De Vito (ambos excelentes). A história gira
em torno de dois vendedores veteranos (os próprios), que
jogam todas as fichas em uma convenção onde pretendem
caçar um grande peixão, cheio de dólares.
Com eles, um jovem estreante profundamente religioso, que, sem
querer, acaba conversando com o peixão, mas não
procura vender seu produto e sim convencê-lo a respeito
de Deus e seus prodígios. Quando os outros sabem disso,
ficam loucos. O personagem de Spacey esbraveja e sai de cena,
deixando o de Danny De Vito, um homem mais velho, recém
divorciado e pensando em abandonar tudo, com o rapazote, quando
travam, aproximadamente, o seguinte diálogo:
– Você não falou com ele sobre o negócio?
– Falar em Deus é mais importante, é mais
humano do que falar em lubrificantes.
– Filho. Ser humano é falar em família, perguntar
pelos filhos. Se você conduz a palavra para Deus, você
o está vendendo, o está vendendo como lubrificantes
ou o que seja.
– Desculpe, mas discordo.
– Não é esse o problema. É que você
não encontrou nada pra se arrepender do que você
fez. Isso é falta de caráter. Sabe o que é,
filho. Acredito em sua sinceridade, mas você tem algo dentro
de si que acha que não, que não está certo
disso e quer, precisa provar essa sinceridade. Quando você
for mais velho e tiver caráter (com as perdas, os problemas,
os cansaços...), você será sincero naturalmente,
sem que isso signifique provar algo, para si ou para outrem...
O diálogo fez-me lembrar A morte do caixeiro viajante,
peça de Arthur Miller. E também o quanto de falácia
ignorante, de vazio engalanado incendeia a pregação
desses neo-religiosos. Bem que eles mereceriam emprestar seu protetor
labial para o personagem de Oldmann no Dois picaretas... (que
cria-lhe outra utilidade – conhecem o disco do Tom Zé,
aquele da capa-ânus?) e usá-lo de volta. Só
para que provassem o outro lado da questão.
|
 A
imagem avassaladora A
imagem avassaladora |
| O
Jô entrevistou o Sérgio Brito, que estava encenando
uma versão de sua autoria de Romeu e Julieta, adaptada
para os tempos atuais. Mas falaram mesmo de cinema, e ambos confessaram
sua predileção pelo cinema em preto-e-branco e mudo
– do que demonstraram grande conhecimento.
Escrevi que eles “confessaram” sua predileção
porque é quase um crime, no terceiro milênio, gostar
de tais coisas. Ainda mais para pessoas públicas de certa
idade, que precisam estar sempre alardeando seu espírito
jovem, a demonstrar o quanto estão inseridas no esquema
do show business. A demanda é por carne fresca. Se não
cozinhar na primeira fervura, ao menos que tenha espírito
fresco. O Jô, com suas toneladas, tentou por vários
tombos ser motoqueiro. Só desistiu depois de próteses
ósseas e limitação de movimentos.
Pois eu também prefiro o cinema antigo, a fotografia em
preto-e-branco, com toda a riqueza de seus meios-tons. Acho que
o cinema atual cada vez mais se parece com a realidade, seja na
interpretação naturalista dos atores, seja nas locações
com preponderância de externas urbanas, seja pelos perfeitos
processos de cor, seja pelo ritmo acelerado de montagem, seja
pela tecnologia utilizada nos “efeitos especiais”,
seja pela quase abolição dos grandes temas (substituídos
pela própria tecnologia, que tornou-se meio e fim da indústria
cinematográfica, fonte de riqueza para os estúdios
e de prazer montanha-russa para o público). Há exceções,
tratadas como excrescências.
A arte deve ser uns olhos diferentes dos nossos, uns olhos transformadores,
demiúrgicos. O preto-e-branco mudo me parece a perfeita
mediação artística entre o mundo colorido-sonoro
e sua representação cinematográfica. (É
óbvio que há arte em filmes de agora, mas não
incomodem, existem inúmeros textos que tratam disso, inclusive
meus.) O trem que ameaçava invadir a sala das primeiras
sessões de cinema, causando pânico entre os espectadores
era tanto mais perigoso quanto irreal. O público não
tinha medo do trem em si, acostumado a gambeteá-lo nas
passagens de nível, mas da imagem avassaladora, daquela
desatinada fantasmagoria brotando do escuro imprevisível
e investindo contra os sentidos, o instinto e a compreensão.
Os filmes antigos enfrentavam questões essenciais (ou assim
nos parece, a nós, imersos no descartável hoje),
grandes temas. Daí decorre muito de sua majestade, sua
plástica, sua poesia, sua eternidade. A bem da verdade,
prescindiam de falas. Observem como as legendas dos filmes do
Carlitos não fazem falta para o entendimento do que se
passa na tela. Comparo as legendas do cinema mudo ao papel do
côro nas antigas tragédias gregas: servem como apoio,
reforço à ação (mais ou menos como
um animador de auditório tipo Fausto Silva ou Sílvio
Santos, ou como um narrador de futebol na TV).
Os filmes eram filmes-sinfonias em que as tomadas-notas, as cenas-movimentos,
compunham loquazes aquarelas. A Última Gargalhada (1924,
F. W. Murnau) é um desses clássicos maravilhosos.
Conta de um porteiro de hotel que vale pelo uniforme que usa.
Ao perder o posto, perde também o respeito dos seus pares
e a auto-estima. A interpretação do ator é
sublime e consegue passar toda nossa indigência essencial:
precisamos do reconhecimento do outro para viver e, antes, nossos
víveres são as aparências. |
 Matilde Matilde |
|
O Pirata Leães, além de ótimo
desenhista (autor da minha caricatura tantas vezes usada neste
domínio, atualmente morando em Santa Maria), sabe tudo
sobre música e cinema. Foi ele quem pela primeira vez indicou-me
O marido da cabelereira, com direção de Patrice
Leconte e atuações impecáveis de Jean Rochefort
e Anna Galiena. O Lalá (Laerte Dorneles) me deu de presente
o vídeo certa vez, mas foi antes de ter feito o transplante
de córnea e ele não viu que a fita estava tomada
pelo mofo. Afinal, em Porto Alegre, na maravilhosa TV 3, o encontrei.
Em uma palavra: adorável.
Jean Rochefort é aquele ator francês de Esse mundo
é dos chatos. Tenho uma simpatia por ele que vai além
de sua figura, aliás, tipicamente francesa, o que já
seria motivo para o gostar – é que me lembra, não
sei bem a troco, o grande Jaques Tati (Meu tio, As férias
de M. Hulot, Tráfego louco...), a quem meu pai adorava
e me levou a conhecer em uma época em que as coisas pareciam
estar todas em seu lugar na vida da gente e aquele distraído
francês era um divertimento seguro. Hoje, nunca se sabe
com segurança o que se vai ver nos filmes, tal a discrepância
entre o marketing e o produto – e, hoje, que estamos órfãos
de posturas éticas na indústria cultural, me sinto
duplamente órfão, inseguro. Mas não quanto
a Leconte e Roquefort.
O filme, singelíssimo, como são costumeiramente
os franceses, intimista, humano, amoroso, conta de um menino que,
apaixonado pela cabeleireira, nos seus 12 anos, decidiu que queria
ser, quando adulto, marido de uma. Não engenheiro, médico,
militar, mas marido de cabeleireira. Encontra-a em Mathilde (Anna
Galiena, e toda sua atração de fêmea de verdade,
nada daquelas coisas esticadas e envernizadas que o cinema americano
produz aos quilos). Casam-se e vivem um para o outro, segundo
a capa do vídeo, e, de fato, “encastelados no salão
Isidore, reino de sua deusa”. Até que, um dia qualquer,
chove torrencialmente, ela se aproxima de Antoine (o personagem
de Roquefort), tira as calcinhas (de algodão, creio, perfumadas,
com certeza) e empoleira-se no colo de seu amado. Então,
após o gozo, como que um véu de tristeza tolda-lhe
o rosto e ela sai para a chuva para “comprar iogurte”.
Não volta mais, joga-se nas “águas turbulentas”
do rio e morre. Mas deixara uma carta onde explicava ao pobre
Antoine que ia embora “antes que você vá”;
“antes de me sentir infeliz”; “antes que você
deixe de me desejar”; “para que você nunca me
esqueça”, eu (ela), “que sempre amei você
e só amei você” (ele).
Na carta, Mathilde diz também que vai embora “levando
a lembrança dos mais belos dias de minha vida, aqueles
que você me deu”. E isso, enquanto via o filme, reportou-me
ao Faustão de um certo domingo, quando Perry Salles contou
do dia em que Vera Fischer foi embora, dizendo-lhe algo como “dei-lhe
os melhores anos de minha vida”. A tremenda mudança
de enfoque com praticamente as mesmas palavras, eis a medida de
que os tempos são outros. Querem ver: Antoine, com 12 anos,
ao ver os seios da cabeleireira, “nunca mais deixou de amar
apaixonadamente os seios das mulheres”. Mas seios, seios,
não bolsas de silicone; seios que, com o tempo –
como a pele, o pênis – humanamente desandam. E é
por isso que nós gaúchos, cultivamos o hábito
do chimarrão, diariamente sovando o rijo “seio moreno”
e sorvendo a “seiva vital”.
Por falar nisso, acabava de ganhar de presente, do amigo Osvaldo
Pereira, uma cuia de porongo grosso, dos matos do Itapororó,
que, além do mais, trazia uma racha labiosa ao comprido.
Cuê pucha! Dava-me a Mathilde inteira!
|
|
José
Carlos Fernández Queiroga © 2004 - www.lapandorga.com.br
:: Todos os Direitos Reservados :: |
|
|
|

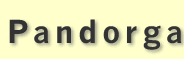
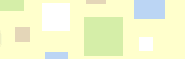


 Da
Concha
Da
Concha Nicole
Nicole Gauche
Gauche Índios
Índios Lubrificantes
Lubrificantes A
imagem avassaladora
A
imagem avassaladora Matilde
Matilde
